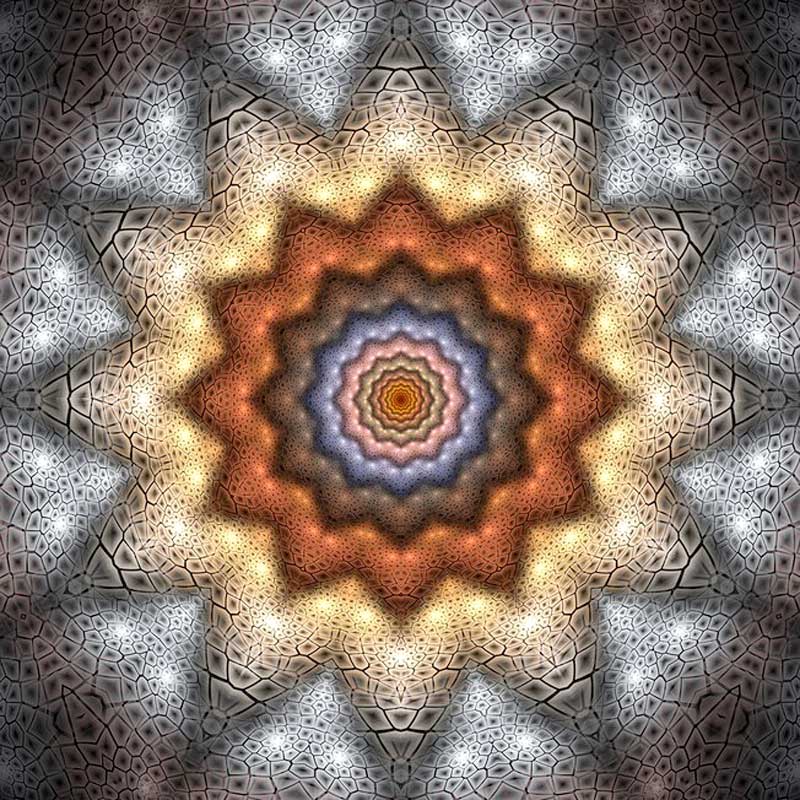Por Nuno Vasconcellos (*)
Para não dizer que o ano de 2024 começa exatamente como 2023 terminou, a troca de cadeiras no Ministério da Justiça foi a demonstração de uma mudança feita para que tudo continue exatamente como está. E uma demonstração de como tudo parece tão tranquilo no cenário que permitiu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizar uma manobra que, no jogo do xadrez, só é permitida quando o jogador não está sob ameaça. O nome dessa manobra é roque.
Quem é minimamente familiarizado com os tabuleiros de xadrez sabe que o roque é a única jogada em que duas peças podem ser movidas ao mesmo tempo. Trata-se, para quem não está familiarizado com as regras do jogo, de uma manobra preventiva, destinada a garantir que um jogador que não esteja sob ataque aproveite o momento de tranquilidade para reforçar sua defesa. Funciona assim: caso não esteja sob xeque, o jogador pode inverter a posição de seu Rei com uma de suas Torres. Quando isso acontece, o adversário se vê obrigado a desprezar as jogadas pelo centro e a alterar a lógica dos movimentos de ataque caso queira vencer a partida.
Numa comparação imperfeita, foi mais ou menos isso que aconteceu na política brasileira neste início de ano com o anúncio pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva da nomeação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski para a vaga até então ocupada por Flávio Dino no Ministério da Justiça. Dino se sentará na cadeira que pertenceu à ex-ministra Rosa Weber — e, portanto, ocupará no STF um posto que, no passado, foi ocupado por Lewandowski. Um irá à posição que foi do outro e tudo permanecerá como antes, permitindo que Lula se mantenha firme em seus movimentos de avanço político. Tudo isso num momento em que o presidente parece ter cada vez menos motivos para se preocupar com uma possível reação dos adversários.
Não há, nessa comparação com o xadrez que envolve Dino e Lewandowski, qualquer intenção de dizer qual dos dois é o Rei e qual deles é a Torre no tabuleiro político. Ambos se igualam, acima de qualquer outro atributo, pela fidelidade a Lula e por isso foram nomeados para os cargos que passarão a ocupar.
Também não há, nessa constatação, qualquer intenção de lançar dúvidas sobre as qualificações de qualquer um dos dois para os cargos que exercerão daqui por diante. Tudo o que se pretendeu dizer foi que esse movimento de Lula tem por finalidade garantir que ele continue tendo até o fim de seu mandato a mesma tranquilidade que teve em seu primeiro ano.
Assim como o enxadrista toma a decisão de fazer um roque antes de sofrer uma ameaça, a manobra que envolveu Dino e Lewandowski se destina a prevenir, não a remediar problemas que podem surgir mais adiante. Se, ao longo do caminho, surgir algum obstáculo capaz de criar embaraços políticos ou jurídicos para o presidente, a dupla estará a postos para ajudá-lo a cortar o mal pela raiz.
E mais: se o novo ministro da Justiça conseguir na política de segurança pública resultados melhores do que os de seu antecessor, ótimo. Caso não consiga e o crime organizado continue avançando no país, como tem avançado nos últimos anos, Lewandowski sempre terá a possibilidade, como fez Dino ao longo do ano que passou à frente da pasta, de compartilhar a culpa com os governos estaduais.
Talvez esteja aí, na ineficiência que o governo tem demonstrado no combate à criminalidade, o único ponto capaz de comprometer a imagem do Planalto no curto prazo. Mais nem isso parece ameaçar o governo a ponto de criar embaraços. Nunca, nem em seus momentos de maior popularidade nos mandatos anteriores, Lula navegou em águas tão calmas como as de agora. E mais: nunca antes na história deste país, um presidente da República se deparou com adversários tão subservientes e dispostos a se tornar seus aliados como agora.
“FORA DE CONTEXTO”
Uma declaração dada em dezembro do ano passado pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto, presidente do maior partido de oposição do Brasil, o PL, circulou na semana passada e deu o que falar. Ao comparar o presidente com o antecessor, Jair Bolsonaro, que é filiado ao PL, Costa Neto cobriu Lula de elogios. “O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente, e é um fenômeno (…) Ele foi bem no governo também, e elegeu a Dilma depois”, disse ele.
Diante da repercussão de suas palavras, e do incômodo manifestado por Bolsonaro diante delas, Costa Neto tentou sair pela tangente. A frase, segundo ele, teria sido “tirada de contexto”. Pode ser. De qualquer forma, o presidente da legenda demonstrou por Lula uma simpatia superior à que um líder oposicionista deveria demonstrar. E deixou claro, dessa forma, que, naquilo que depender dos adversários de hoje, Lula pode conduzir o país para o rumo que lhe for mais conveniente sem se deparar com alguém em condições de erguer qualquer obstáculo em seu caminho.
Esse ponto, por sinal, precisa ser considerado. No atual momento, o único político brasileiro que se mostra capaz de criar problemas para Lula é o próprio Lula. E isso diz respeito tanto às posições que seu governo tem assumido no cenário internacional quanto naquilo que diz respeito aos efeitos de médio prazo de sua insistência em manter os gastos federais muito acima da capacidade de arrecadação da máquina. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2023, as contas do país registraram um déficit primário de R$ 234,3 bilhões — contra um superávit de R$ 59,7 bilhões em 2022. Isso, claro, é um problema.
Incapaz de reduzir o custo de sua máquina e ciente do efeito negativo que essa situação pode causar no curto prazo, o governo só enxerga uma saída. A ideia é apertar o torniquete no pescoço da sociedade para obter o aumento de arrecadação, que permitirá a manutenção dos gastos públicos nas nuvens à custa do sacrifício de quem precisa se matar para conseguir arcar com uma carga cada vez mais pesada de impostos.
Ao longo da semana passada, o presidente do Senado, que é também presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se dedicou a negociar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma questão sobre a qual o Parlamento já se pronunciou, mas que o governo insiste em manter na pauta. Trata-se da reoneração das folhas de pagamento de 17 setores da economia.
Em qualquer democracia do mundo, quando o Poder Legislativo se pronuncia sobre um determinado assunto, o Executivo acata a decisão e se adapta a ela. No Brasil atual, não é assim. Derrotado no Congresso quando a questão foi levada à votação, o governo não desistiu de cobrar os tributos escorchantes que costumam incidir sobre as folhas de pagamento desses 17 setores. E, ao invés de reconhecer o fracasso da tentativa, o Planalto apresentou uma Medida Provisória com o mesmíssimo teor do projeto derrotado.
Pegou mal. Tão mal que até o dócil Pacheco resolveu falar alto e ameaçou devolver a MP ao Executivo. Só que ele não fez o que ameaçou fazer. Nos últimos dias, o senador abriu com Haddad uma negociação destinada a encontrar um jeito de passar por cima de uma questão já decidida pelo poder que ele preside.
Ou seja: para não ficar mal com Lula e seu governo, Pacheco prefere comprometer seu prestígio junto aos parlamentares que já tinham tomado a decisão. O problema, por enquanto, está sob controle. Mas, com o tempo, as manias de desafiar permanentemente o Congresso e de aumentar a carga tributária a um limite insuportável para continuar gastando dinheiro a rodo podem acabar gerando para o governo problemas que ele não tem agora.
DEDO NA FERIDA
Outro ponto que pode trazer para Lula dissabores que ele não teve em seu primeiro ano de mandato é a postura de seu governo no cenário internacional. Mais especificamente, a disposição incontrolável de seus diplomatas de tomar decisões que alinham o Brasil com as ditaduras mais abjetas do mundo. Essa mania, por consequência, tem mantido as grandes democracias ocidentais com um pé atrás em relação ao país. E gera burburinhos facilmente de serem evitados se o país adotasse uma conduta diplomática condizente com suas tradições.
Dias atrás, o ex-ministro das Relações Exteriores Celso Lafer encaminhou ao atual titular da pasta, Mauro Vieira, uma carta com críticas duras à decisão do Brasil de apoiar sem qualquer debate a iniciativa da África do Sul em relação a Israel. O país, que também é integrante dos BRICS e, como o Brasil, age por inspiração da Rússia e da China, resolveu denunciar Israel na Corte Internacional de Justiça, em Haia, por crime de genocídio contra o povo palestino. Lafer pôs o dedo na ferida. Afirmou que a denúncia a Israel “reforça o antissemitismo” e, além disso, contribui para a “deslegitimação do Estado de Israel no plano internacional”.
Essa é, de fato, uma verdade cada vez mais escancarada. Dia após dia, a diplomacia brasileira rasga um pedaço do véu da falsa neutralidade com que procurou cobrir sua posição nos dias seguintes aos atentados do dia 7 de outubro do ano passado e se mostra cada vez mais simpática ao Hamas. Não se ouve das autoridades brasileiras nenhuma menção aos 132 reféns arrancados brutalmente de suas casas e até hoje mantidos em condições subumanas nos coiteiros dos terroristas na Faixa de Gaza.
ESTUPRO E DEGOLA
A turma que condena o “genocídio” age como se Israel tivesse tomado a decisão de atacar as posições dos terroristas em Gaza sem qualquer justificativa. Para esse pessoal, o estupro de dezenas de mulheres diante dos filhos e a degola de crianças na frente dos pais não são razões que justifiquem uma reação militar determinada. Para eles, crimes hediondos como esses nada mais são do que um recurso legítimo utilizado por um grupo que, apesar de ter como únicos objetivos a destruição do Estado de Israel e o extermínio do povo judeu, não pode ser chamado de “terrorista”.
O pior de tudo é que o Itamaraty, ao apoiar o pedido de condenação de Israel sem ao menos questionar os argumentos e as estatísticas que os terroristas do Hamas apresentam em sua defesa, dá ao mundo a impressão de que age e fala em nome do país inteiro. O que está longe de ser verdade.
CADEIA DE IMPORTÂNCIA
O governo só age com essa desenvoltura, que lhe permite tomar posições ideológicas que contrariam a tradição diplomática brasileira, porque não encontra ninguém para lhe dizer o contrário. A cada dia, o Planalto se mostra cada vez mais à vontade para lidar com uma “oposição” que parece cada dia mais preocupada em garantir a execução das “emendas constitucionais” e em obter outros favores do governo do que em mostrar suas diferenças de ponto de vista em relação à atual “situação”. É triste constatar que, no Brasil, boa parte dos políticos que são eleitos para representar a sociedade exercem o mandato como representantes de si mesmos.
Essa constatação pode parecer pessimista demais para o primeiro texto do ano. Um texto que, por tradição, deveria demonstrar um pouco mais de otimismo em relação ao futuro. Não se trata de otimismo nem de pessimismo, apenas de um lembrete ao cidadão: dentro de exatos 259 dias, o país irá novamente às urnas para escolher o prefeito e os vereadores de cada um de seus 5.568 municípios. No total, serão preenchidos 68.975 cargos eletivos. Serão 5.568 prefeitos, igual número de vice-prefeitos e nada menos do que 57.839 vereadores. É gente que não acaba mais — todos remunerados pelos contribuintes brasileiros.
É claro que o peso político dessa turma varia de acordo com o porte, a importância, o tamanho da população e a capacidade de arrecadação do município que elege seus representantes. No caso do estado do Rio de Janeiro, temos, de um lado, a capital com seus cinco milhões de eleitores distribuídos por 49 zonas eleitorais — números que tornam a eleição para prefeito do município mais “pesada”, no que se refere à quantidade de votos que o candidato precisa conquistar para ser eleito, do que a de 16 estados da federação.
Essa dificuldade se reflete também, é claro, na Câmara da capital, que tem 51 vereadores. Para se ter uma ideia da representatividade da Casa, basta mencionar que, entre as 27 Assembleias Legislativas existentes no país (incluindo a do Distrito Federal), apenas seis têm uma quantidade de deputados superior à de vereadores do Rio. São elas as da Bahia, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de São Paulo e a do próprio estado do Rio. Num cenário como esse, não dá para brincar com o voto — e ainda que isso pareça um sonho impossível, seria muito bom que o eleitor acordasse e escolhesse vereadores à altura dos problemas que a cidade precisa resolver.
Isso mesmo. Embora muita gente os veja como a base da cadeia de importância da política brasileira, os vereadores são essenciais. Embora ocupem, à primeira vista, uma posição de prestígio inferior, eles têm em mãos instrumentos e atribuições com mais possibilidade de interferir no dia a dia do cidadão do que um deputado estadual. São eles, em última instância, quem têm o poder de orientar o crescimento das cidades nessa ou naquela direção, quem autoriza a abertura de uma nova rua ou quem legisla sobre as posturas urbanas, sobre a educação municipal, sobre o transporte público e sobre uma série de outras áreas em que a competência do município é maior do que a do estado e até mesmo do que a da União. Quando a gente menos esperar, teremos pela frente um monte de gente pedindo nosso voto. É bom escolher bem. Nem que seja apenas para não ver quem for eleito com nosso voto assumindo posições contrárias às que acreditamos.
(*) Empresário luso-brasileiro